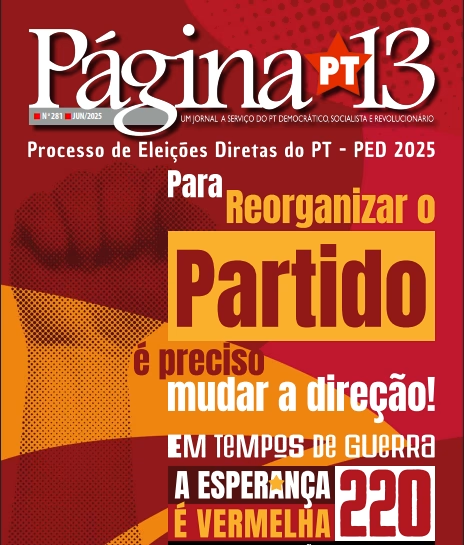Por Iole Ilíada (*)

Texto publicado na edição 14 da revista Esquerda Petista
Antonio Gramsci, um dos maiores pensadores marxistas do século XX, disse, certa vez, que uma crise “consiste justamente no fato de que o velho morre e o novo não pode nascer: neste interregno, verificam-se os fenômenos patológicos mais variados”[1]. Mesmo se escrita em outro contexto histórico, a frase poderia perfeitamente servir para caracterizar o atual panorama internacional, marcado por uma crise sistêmica do capitalismo, com os reflexos na ordem geopolítica que lhe são característicos.
O anúncio de crises sistêmicas, capazes de mover as placas tectônicas da ordem internacional, sempre exige cautela. Afinal, não é fácil apreender o movimento histórico presente e atribuir-lhe um significado antes que todas as suas consequências estejam claras. Além disso, dadas as contradições do capitalismo, um certo “estado de crise” lhe é inerente, e, portanto, nem sempre é simples diferenciar os problemas mais conjunturais daqueles de caráter estrutural. Finalmente, uma crise, mesmo de tal monta, não deve ser confundida com algo “terminal”, que prenuncia necessariamente o fim desse modo de produção. Ao longo de sua história, o capitalismo passou por várias crises assim, mas, até o momento, foi capaz de se reorganizar e até se fortalecer como sistema econômico dominante no mundo.
Mesmo com a devida cautela, no entanto, parece formar-se um consenso entre os analistas do capitalismo global em torno da ideia de que estamos diante do “fim da ordem internacional do pós-Guerra Fria, a ascensão da Ásia ao centro do tabuleiro econômico e geopolítico mundial” (FIORI[2]); ou do “ocaso gradual de um modo de acumulação econômica e um modo de dominação, que foi o neoliberalismo” (LINERA[3]); ou da “crise do imperialismo do dólar” (LAZZARATO[4]) – expressões diferentes, mas que apontam para constatações semelhantes acerca do período histórico que atravessamos.
Crise e transição
Uma crise, do ponto de vista histórico, representa o momento em que o acúmulo de contradições do sistema atinge uma espécie de saturação e os problemas já não podem ser assimilados e absorvidos pelas estruturas existentes. Foi o que aconteceu, por exemplo, na crise de 1929, que resultou na Grande Depressão dos anos 1930, na ascensão de regimes fascistas e na II Guerra Mundial, sobre os escombros dos quais se consolidou a hegemonia estadunidense e um padrão de acumulação keynesiano-fordista. Foi assim também nos anos 1970, quando a crise desse padrão levou ao fim dos acordos de Bretton-Woods, ao fortalecimento do capital financeiro e à consolidação do neoliberalismo – o que, associado com o fim da URSS e do campo socialista no final dos anos 1980, levou os EUA a sonharem com uma ordem mundial unipolar.
Tomando os casos citados, fica evidente que as crises dão lugar a um período relativamente longo de transição, marcado por muitas turbulências, sem que seja possível prever o desfecho – que dependerá das disputas travadas pelas classes sociais e/ou pelos Estados nacionais. E este parece ser exatamente o momento em que estamos imersos: um período de instabilidade, incertezas e turbulências; de crise e transição no sistema econômico e político internacional.
Elementos para essa constatação não faltam, a começar pela crise econômica que se manifestou inicialmente em 2007/2008 e, até agora, foi apenas contornada, sem que se alcançasse novamente um equilíbrio estável, e que segue produzindo recessão, inflação e desequilíbrios de várias ordens – condição agravada pela pandemia da Covid e, agora, pela guerra na Ucrânia. Esse cenário aumenta as desigualdades econômicas e sociais em todo o globo, e, embora já esteja evidente a ineficiência das medidas de austeridade para resolver os problemas, elas continuam sendo preconizadas para responder aos déficits governamentais resultantes do baixo crescimento, que, por sua vez, é agravado pelos altos juros praticados com o objetivo de reduzir as pressões inflacionárias.
Essa crise sugere, portanto, um esgotamento do modelo neoliberal, até aqui apoiado fortemente em uma globalização financeira que já não parece capaz de alavancar a economia em nenhuma parte do mundo, nem mesmo de maneira artificial, através da expansão do capital fictício – o que traz sérias dificuldades para o processo de acumulação de capital.
Atingindo o centro do sistema, essa crise reforça a perda de poder dos EUA, cujo declínio da hegemonia já se faz sentir há algum tempo. O país norte-americano vê assim ascender, do outro lado do mundo, a China como potência, e sabe que, a seguir as coisas como estão, ser superado economicamente por aquele país é só uma questão de tempo.
Evidentemente, não se poderia supor que os EUA assistiriam a isso passivamente. É o que explica a escalada tanto da guerra comercial quanto dos conflitos geopolíticos com o gigante asiático. Insere-se nesse contexto a nova “Lei dos Chips” (Chips and Science Act) aprovada nos EUA, que visa ampliar exponencialmente a produção de semicondutores no país e, ao mesmo tempo, criar dificuldades para a China, bloqueando-lhe o acesso aos chips de última geração com tecnologia estadunidense. Também faz parte desse acirramento a recente visita da então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, a Taiwan – não por acaso, o maior produtor de chips do mundo –, em uma clara provocação à integridade territorial chinesa, assim reconhecida pelos próprios EUA desde 1972.
Apesar de algumas tentativas recentes de jogar água na fervura desse conflito, entre elas o primeiro encontro entre Joe Biden e Xi Jinping às vésperas da reunião do G-20, em Bali, as posições anti-China nos EUA parecem ser uma unanimidade política. E o novo presidente da Câmara, Kevin McCarthy – eleito depois de um vexatório impasse entre os republicanos, que necessitou de 15 sessões para ser superado –, já prometeu trabalhar nessa direção em seu discurso de posse.
Uma das dificuldades que os EUA enfrentam nesse confronto está no alto grau de interconexão econômica entre os dois países, seja no que se refere às trocas comerciais – nas quais os EUA são deficitários – ou ao fluxo de investimento direto. Vale lembrar, também, que grande parte das reservas chinesas está investida em títulos da dívida estadunidense, ainda que esse montante venha sendo paulatinamente reduzido pelos chineses. Isso significa que uma queda abrupta de um dos polos econômicos afetaria também o outro, assim como todo o arcabouço econômico do mundo – que, não à toa, torce por uma recuperação rápida da economia chinesa após os problemas trazidos pela Covid.
Para reduzir essa interdependência, a China vem buscando construir um leque de relações alternativas com os países do chamado Sul Global. Desde o início de século XXI, o ciclo elevado de crescimento chinês impactou positivamente a demanda por matérias-primas e recursos energéticos no mundo, o que já ampliara as relações comerciais e os investimentos chineses em regiões como a América Latina e a África. E, a partir de 2013, ano em que Xi Jinping foi eleito presidente, houve claras sinalizações da intenção de ampliar sua influência externa, principalmente através do projeto conhecido como a “Nova Rota da Seda”, que envolve amplos investimentos integrando países da Ásia, África e Europa, fortalecendo assim sua posição com relação aos países vizinhos e a regiões geopolíticas estratégicas.
Mas talvez a aliança estratégica que mais cause arrepios nos anseios de manutenção da hegemonia estadunidense seja aquela firmada entre China e Rússia, que ganhou força com a aproximação entre Xi Jinping e Vladimir Putin e teve como seu ponto alto a declaração conjunta assinada em Pequim em fevereiro de 2022, em que se faz referência a uma “parceria sem limites” na busca por uma nova era nas relações internacionais – deixando clara a compreensão do momento de crise e transição que atravessamos.
Um dos pontos tratados no documento, aliás, cuja divulgação foi feita justamente às vésperas da deflagração do conflito na Ucrânia, criticava duramente qualquer tentativa de ampliação da Otan. Afinal, a ampliação desse bloco militar vem sendo uma das principais linhas na estratégia de manutenção do poder dos EUA, combinada com a desestabilização e derrubada de governos que lhe são hostis, visando, assim, criar um cinturão de defesa contra o avanço do poder e influência de outras potências no mundo. Nesse sentido, o caso ucraniano é emblemático. Depois de contribuir para derrubar em 1914 o governo de Víktor Yanukovych, simpático a Moscou, os EUA estavam próximos a abarcar aquele país em sua aliança militar – o que implicaria instalar bases às portas do território russo. A reação de Putin a essa ameaça, desde o referendo que resultou na integração da Crimeia à Federação Russa até a invasão bélica dos territórios ucranianos, é conhecida por todos, e a guerra ali instalada ainda parece longe de um fim.
Cabe assinalar que, até agora, a Guerra, realizada “por procuração” no território ucraniano, tem sido positiva para os EUA. Em primeiro lugar, o país norte-americano conseguiu mais uma vez que a Europa se rendesse, vergonhosamente, a seu comando e seus interesses, impedindo que se consolidassem parcerias com a Rússia, sendo o caso mais evidente o da suspensão das atividades do gasoduto Nord Stream 2, obra que era fundamental para abastecer a Alemanha.
Além disso, o clima bélico amplia a corrida armamentista no mundo, o que, por um lado, fomenta a economia estadunidense, já que justifica a ampliação de gastos públicos com a indústria armamentista, naquilo que já foi chamado de “keynesianismo bélico”, e aumenta a exportação de armas para países aliados. Basta citar o caso do Japão, que rompeu recentemente com a política de pacifismo vigente desde o fim da II Guerra e anunciou a intenção de se tornar o terceiro maior investidor em armas do mundo. Por outro lado, os EUA acabam empurrando as nações concorrentes a também utilizar seus recursos nessa direção, em uma manobra que muitos comparam àquela utilizada para criar dificuldades econômicas na extinta URSS. É claro que as circunstâncias hoje são distintas e a China não enfrenta os mesmos problemas dos soviéticos, mas, de fato, seus gastos militares vêm se expandindo nos últimos anos, e a previsão desse aumento em 2022 era superior às estimativas de crescimento do PIB, o que revela um deslocamento de recursos para o setor.
O papel do dólar
Mesmo sendo beneficiada pela Guerra, a ainda maior economia do planeta segue bastante instável, acumulando baixo crescimento e índices altos de inflação – o que muitos compararam com o período de estagflação vivido nos anos 1970. A situação só não é pior porque segue ativo o mecanismo instituído justamente naquela ocasião, quando os EUA romperam unilateralmente com a paridade ouro-dólar instituída em Bretton-Woods e o mundo adotou o dólar como sua divisa internacional. Isso permite que os déficits contraídos seguidamente, seja no orçamento doméstico ou no balanço de pagamentos – lembrando que os EUA são os maiores devedores líquidos externos em números absolutos –, sejam financiados pelos demais países, na forma de aquisição de títulos e bônus da dívida estadunidense (nos quais está aplicada grande parte das reservas internacionais do mundo) ou da própria moeda para distintas finalidades.
Estima-se que cerca de 80% das transações globais ainda seja feita em dólar. Mas esse privilégio da moeda estadunidense vem sendo crescentemente contestado, e vários países buscam alternativas, a começar pela diversificação de parte de suas reservas, que passam a ser investidas em ouro ou outras moedas. Além disso, cresce a intenção de se libertar da exigência de realizar as operações comerciais internacionais em dólar – necessidade que se tornou ainda mais evidente com as sanções monetárias impostas à Rússia, em uma operação que converteu o dólar em uma verdadeira arma de guerra. Amplificam-se, desse modo, os arranjos para a utilização de moedas distintas, algo que chegou a ser discutido pelos BRICS e pelo Mercosul e que também foi objeto de acordos bilaterais, como aquele entre China e Rússia.
A grande dificuldade, aqui, reside nas contradições do sistema, que fazem com que a própria crise seja indutora do fortalecimento da moeda estadunidense, considerada mais “segura” quando o cenário econômico é turbulento. E o mesmo ocorre com os títulos da dívida daquele país, sempre que ele eleva seus juros para buscar conter a inflação. Por outro lado, ao mesmo tempo em que esse processo sustenta a economia americana, ele dificulta que esta cresça de forma estável, baseada na produção industrial ou nos investimentos em infraestrutura, tornando o país cada vez mais dependente da financeirização – e do poder militar – para manter sua hegemonia. É esse frágil arranjo que está hoje em crise. E não parece possível que ele seja desmontado com pequenas reformas nas relações internacionais. Eis porque o cenário que se avizinha é de acirramento dos conflitos geopolíticos.
A ascensão da extrema-direita
Como nos alertava Gramsci, em cenários assim, de crise e transição, muitos “sintomas patológicos” aparecem. O sardo genial refletiu sobre isso exatamente durante a ascensão do fascismo na Itália. E não parece apenas coincidência que, novamente, em um período de grande abalo da ordem política e econômica internacional, o fenômeno ressurja com força em várias partes do mundo.
Se é correto supor que segmentos de ultradireita sempre existiram nas democracias liberais, parece claro que, em momentos de crise e turbulência, há um fortalecimento desses setores, que ganham projeção política, organização social, influência nas massas e articulação internacional. Isso ocorre, justamente, porque seu discurso antissistema acaba ganhando eco tanto entre as camadas populares que sofrem os efeitos econômicos e sociais negativos da crise – e passam a descrer da democracia como regime capaz de resolver seus problemas – quanto nas classes dominantes, que temem que esses efeitos fomentem a luta anticapitalista.
Além disso, em meio às instabilidades do período, a extrema-direita consegue mobilizar os valores conservadores e reacionários, colocando-se como uma espécie de linha de defesa de identidades baseadas nos laços sanguíneos, na religião ou na ideia de “pátria” – vendendo, assim, uma aparente segurança em face das aceleradas transformações vivenciadas no mundo.
É interessante notar que esses setores se apresentam como sendo contrários ao sistema político, mas não contra o sistema econômico. Seu crescimento atual, portanto, se alimenta contraditoriamente das mazelas de um neoliberalismo que eles ajudam a implementar assim que alcançam o poder.
Em contrapartida a essa ascensão, muitos analistas apontam para a América Latina como um dos poucos lugares onde a esquerda parece estar conseguindo vencer aquilo que pode ser caracterizado como neofascismo, e essa conclusão se baseia na sequência de resultados eleitorais, sendo o mais recente o de Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, que tingiu novamente de vermelho – ou de cor-de-rosa, como preferem alguns – o mapa da região. Mas essa vitória é parcial, como ficou claro, por exemplo, na intentona golpista de 8 de janeiro em Brasília. E uma das dificuldades que os setores progressistas vêm encontrando é que, visando a enfrentar a ultradireita, são compelidos a formar alianças mais amplas, que englobam parcelas da direita que, não obstante serem “democráticas”, não são, por isso, menos neoliberais.
A esquerda se vê, assim, como fiadora da ordem existente e mesmo de preceitos neoliberais, tais como “responsabilidade fiscal” e “respeito aos contratos”. Desse modo, aparece cada vez menos como a portadora de uma alternativa de transformação radical, de superação do capitalismo – isso, mesmo em um momento em que a velha ordem parece estar em ruínas.
Brasil: crise é oportunidade?
Já se tornou lugar comum, quando se fala em crise, invocar erroneamente o ideograma chinês para dizer que, apesar dos perigos, ela abre um campo de possibilidades. E é esse o debate feito agora em torno da política externa brasileira, no momento em que Lula, cuja atuação internacional foi motivo de muitas avaliações favoráveis, retorna ao governo brasileiro.
Se é fato que momentos de grande turbulência internacional, em que se acirram os conflitos entre as grandes potências, podem facilitar que os países periféricos desenvolvam de forma mais autônoma tanto projetos nacionais quanto novos arranjos regionais, também é inegável que a perspectiva de um longo período de desaceleração econômica e de conflitos bélicos em âmbito global tende a afetar negativamente esses países antes que mudanças estruturais dessa natureza sejam realizadas.
O cenário agora, portanto, é totalmente diferente daquele de 20 anos atrás. Para que o Brasil não fique totalmente à mercê das turbulências internacionais, ou seja, para que possa buscar incidir sobre as saídas que serão construídas para a crise, terá que se colocar no mundo como um ator relevante. E, por mais que Lula seja hoje um símbolo na diplomacia internacional, isso não se fará se à sua figura política não se acrescentar um lastro material. Afinal, nas relações geopolíticas, o peso político de um Estado é sempre proporcional a seu peso econômico.
Álvaro García Linera disse certa vez[5], referindo-se à necessidade de uma maior integração latino-americana, que “o Brasil é grande, mas é insuficientemente grande; o Brasil tem uma economia forte, mas insuficientemente forte”. E não há dúvida de que, de fato, a atuação do Brasil terá tanto maior impacto quanto mais ele se articular a outros países, não só da região, mas do chamado Sul Global. Arranjos como o dos BRICS serão fundamentais para as disputas pelos rumos do mundo pós-crise. E uma coisa parece certa: atuar nessa conjuntura internacional exigirá uma política externa ousada, que conteste os descaminhos da ordem vigente – o que, no atual cenário, não será feito sem contrariar os interesses do imperialismo estadunidense.
[1] GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere, v.3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.
[2] A afirmação foi feita por José Luís Fiori em entrevista concedida à revista Focus nº75, editada pela Fundação Perseu Abramo, que pode ser acessada em https://fpabramo.org.br/focusbrasil/edicao/focus-75-28-de-novembro-a-04-de-dezembro/.
[3] O ex-presidente da Bolívia Álvaro García Linera fez tal consideração em entrevista dada à Rádio Brasil de Fato em junho de 2022, cujo teor pode ser visto em https://www.brasildefato.com.br/2022/06/28/otimista-com-lula-garcia-linera-diz-que-america-latina-precisa-da-lideranca-brasileira.
[4] Maurizio Lazzarato, sociólogo italiano radicado na França, tem se dedicado a fazer esse debate, conforme explicou em entrevista dada em dezembro de 2022 à Revista IHU, da Unisinos, que pode ser acessada em https://www.ihu.unisinos.br/624553-nao-e-uma-guerra-entre-a-russia-e-a-ucrania-e-uma-guerra-pela-reorganizacao-da-ordem-mundial-entrevista-com-maurizio-lazzarato.
[5] A afirmação foi feita na já referida entrevista concedida à Rádio Brasil de Fato.
(*) Iole Ilíada possui Bacharelado e Licenciatura em Geografia pela Universidade de São Paulo (1991), Mestrado e Doutorado em Geografia Humana também pela USP. Tem experiência no ensino e na pesquisa da Geografia Humana.