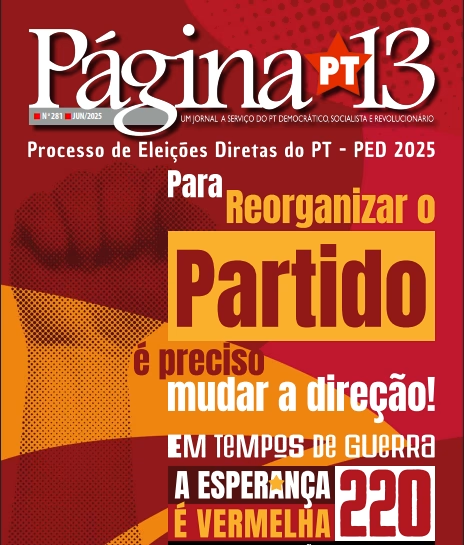Os principais aspectos macroeconômicos no país estagnaram ou mesmo deterioram-se desde 2016. À já notável queda da taxa de crescimento do PIB per capita do país de 2010 a 2016, seguiu-se uma estagnação em 2017-2018, segundo o CEPAL-STAT. A inflação (INPC) acumulou 23% entre 2015 e 2018, mas a variação do salário mínimo chegou a apenas 21% no mesmo período, segundo o IPEADATA. A taxa oficial de desemprego saltou de 9,3% em 2015 a quase 15% em 2018, com aumento da concentração de renda. Segundo a PNAD-Contínua (IBGE), o número de desocupados cresceu de onze milhões de pessoas em janeiro de 2016 para 12,1 milhões no fim de 2018. Há então um alto desemprego estrutural, situação almejada pelos oligopólios para frear salários. O crescimento da dívida do setor público, que já vinha se elevando desde 2011 devido à diminuição do ritmo de crescimento, não foi detido. O governo central acumulou sucessivos déficits primários e globais entre 2016 e 2018, com a dívida pública interna evoluindo de 66 a 67% do PIB, acompanhada de um significativo aumento da externa, que cresceu de 3,7% a 9,8% do PIB entre 2016-2018 (ver <https://estadisticas.cepal.org>). Note-se que os déficits primários do governo central -média de dez bilhões ao mês em 2018, segundo o Tesouro Nacional- adicionaram involuntariamente certa demanda efetiva à economia, mas traduzindo um baixo crescimento da arrecadação (ver https://www.tesourotransparente.gov.br).
Por sua vez, os dados das Contas Trimestrais do IBGE mostram que o país desindustrializou-se de forma consolidada. A tendência não foi revertida desde 2016. A indústria de transformação, que já perdera cinco pontos percentuais no PIB desde 2014, estacionou em 10%. A construção civil, um dos setores em que até então fortes grupos privados locais ainda tinham saliência face aos estrangeiros, também estancou em termos percentuais (5% do PIB). De fato os dados mostram que o próprio investimento como um todo estancou-se. A taxa de formação bruta de capital (máquinas, prédios e capital fixo em geral) caiu abaixo de 20% em 2017 e lá permaneceu. Para ter-se ideia mais clara, compare-se a situação do país com a China. Esta tinha em 1999 um PIB aproximado de 1,1 trilhão de dólares, e o Brasil de 600 bilhões. Em 2018, a China atingiu um PIB aproximado de 13 trilhões de dólares, chegando o Brasil a apenas 1,8 trilhões no mesmo ano. Mesmo assim, a China continua a investir ao redor de 42% de seu PIB (ver ttps://data.worldbank.org).
Assim, a estagnação brasileira persistiu até hoje, numa clara demonstração da fragilidade do discurso daqueles que tomaram o poder em 2016. Ainda segundo os dados das Contas Trimestrais, a administração Temer, com exceção de involuntários déficits fiscais, nada fez para evitar o aumento do desemprego (ver a estabilidade da variável “consumo do governo”). Não se esboçou nenhum plano expansivo diante de uma dramática elevação da taxa de desemprego. Pelo contrário, aprovou-se, numa cansativa reedição de dogmas neoliberais, uma mudança constitucional que de fato bloqueava o estado como um ente capaz de moldar qualquer projeto nacional de longo prazo. Economicamente, o Estado tornar-se-á cada vez mais um mero gestor diário de arrecadação e despesas para garantir o pagamento da dívida pública; juridicamente, ele está evoluindo num sentido crescentemente repressor das maiorias pobres. Neste sentido, a chamada “PEC dos gastos” foi uma das medidas mais restritivas já tomadas pelo poder público local, a denotar a amplamente favorável correlação de forças em favor dos detentores da dívida pública. Os financistas, sejam locais ou estrangeiros, asseguraram-se de forma aparentemente completa da gestão dos recursos públicos, garantindo que o Tesouro estancará em termos reais as “despesas” em em educação e saúde -antessala de um projeto mais amplo de privatização.
Os momentos de crise são bons convites para a reflexão histórica. Como o país baixou a tanto, chegando ao ponto da eleição de representantes mentalmente doentes e criminosos racistas? Olhando de forma mais profunda, há o fracasso de todo um modelo econômico surgido desde o fim dos anos 1980, momento no qual o processo substitutivo de importações, que bem ou mal ainda vigorava, foi bloqueado pelas autoridades locais em conjunto com o FMI.
No lugar da industrialização financiada pelo capital internacional em vigor na ditadura civil-militar (1964-1989), o neoliberalismo trouxe a privatização dos ativos produtivos públicos e a retomada de um modelo de inserção externa mediante exportação de recursos primários, em vias de ser superado ao longo da década de (19)80. Depois de suas sucessivas crises em 1997, 1998, 1999 e 2001, o modelo neoliberal ganhou balões de oxigênio com a expansão do leste asiático, vista até recentemente. Neste período o PT governou o país e o modelo foi parcialmente revisto, com o fortalecimento de empresas e bancos públicos, paralelamente a uma melhoria fiscal parcialmente dada pelo aumento das exportações. Porém, não se evitou um processo de desindustrialização e uma internacionalização consolidada da economia, face a um consórcio oligopólico que agora une os tradicionais atores à China.
Ao mesmo tempo, no momento atual, tornou-se claro que aquele intenso crescimento da economia chinesa está terminando. A taxa de investimento chinesa vem caindo e a norte-americana está estagnada (sendo bem menor que a chinesa, situando-se ao redor de 20% do PIB). Isto significa que economia brasileira se depara então com a seguinte situação estrutural: desindustrialização consolidada e permanente dependência da exportação de recursos naturais; estado enfraquecido como entidade propulsora da acumulação de capital; fracas perspectivas para o crescimento do comércio exterior e nenhum projeto de crescimento do mercado interno mediante políticas redistributivas. No nível político, a classe trabalhadora não está neste momento à altura do ataque posto por seus inimigos internos e externos.
Os dados de balanço de pagamentos mostram uma economia dependente (ver https://cepalstat-prod.cepal.org/). Mesmo com a enorme queda do crescimento dos últimos anos, a fazer cair as importações, a conta de transações correntes com o exterior segue sendo negativa. De fato, o país exportava 37 bilhões de dólares em bens e serviços em fins de 2016 e apenas 39 bilhões no início de 2019 (com ligeiras variações), traduzindo o mencionado cenário global cadente e fraca capacidade competitiva. Destas exportações, uma parte relevante era formada de recursos naturais não-renováveis -minério de ferro, petróleo etc.. Este padrão de inserção ainda é dado como uma necessidade natural pelos oligopólios. Porém, os limites e riscos do “modelo” são hoje mais claros. A exportação de minerais e recursos naturais está entropicamente fadada a acabar.
No curto prazo, exportar tais recursos exige água e energia abundantes -levando assim a enormes perdas invisíveis de comércio exterior-, além de desmatamento, enormes crateras, e desastres periódicos como os de Minas Gerais. A exportação desproporcional de tais recursos valoriza artificialmente a taxa de câmbio e atua como um desestímulo à produção intensiva em tecnologia e força de trabalho qualificada. Nestes termos, a exploração da chamada camada pré-sal também inevitavelmente levará a vazamentos na costa sudeste e sul do Brasil, com danos irreparáveis. Reconheçamos modestamente que o otimismo inicial depositado no pré-sal era equivocado. Administrado em termos soberanos e ambientalmente adequados, o petróleo pode de fato se converter em um mola de desenvolvimento industrial, como tentou Hugo Chávez na Venezuela; mas nos termos em que está posto -enfraquecimento da Petrobras e da regulação do estado-, serve mais como um atrativo para a ingerência estrangeira e para a prorrogação de um modelo exportador de recursos naturais que manterá o subdesenvolvimento, sem mencionar a contaminação potencial do ambiente.
Com efeito, o país foi um dos que mais recebeu investimentos diretos estrangeiros na região nos últimos anos. Supostamente, tal denotaria algo positivo. Foram 389 bilhões de dólares em investimentos diretos e quase duzentos bilhões em investimentos em carteira (diversos tipos de investimento financeiro) entre 2012-2016. Mas a aceitação acrítica da hipótese dos benefícios da poupança externa não pode esconder os óbvios problemas subjacentes do modelo aberto/periférico. Neste sentido, note-se que o fluxo de recursos ao exterior em forma de rendas somou, no caso dos investimento diretos, 139 bilhões de dólares e 94 bilhões de dólares sob o conceito de rendas de investimentos em carteira entre 2012 e 2016 (ver CEPAL-STAT). Segundo o IPEADATA, a formação bruta de capital do país, calculada em dólares a uma taxa de câmbio de quatro reais, somaria aproximadamente 1,3 trilhões de dólares entre 2012-2016; assim, um montante que equivale a quase 20% do valor do total de investimentos reais no período fugiu para os bancos do exterior, sob o manto da sagrada liberdade de movimento de capitais. Poder-se-ia perguntar porque os oligopólios e a elite local deveriam desfrutar deste direito, enquanto a migração de mão-de-obra é fortemente bloqueada nos centros.
A questão não se refere apenas a decisões de investimento e a perdas externas, visíveis e invisíveis. Com o aumento da internacionalização na época da chamada “globalização”, a economia tornou-se ainda mais exposta a contágios vindos de crises alheias, como se viu periodicamente na história econômica recente. Sob um aporte crescente de capital externo e câmbio flutuante, não só o câmbio valorizou-se de forma exacerbada e negativa à produção doméstica. Há crescente ingerência estrangeira no país e na região, sob o resguardo dos serviços de inteligência, inclusive no que se refere à desestabilização direta de governos progressistas. É óbvio que em uma economia periférica internacionalizada, tanto a legislação de trabalho como as despesas públicas, bem como a própria vida política do país, interessam crescentemente aos oligopólios. Assim, buscarão eles influir de todas as formas para moldar as condições locais a seus interesses (baixos impostos, baixos salários, mobilidade de capital, pressão sobre governos nacionalistas etc.). Isto se intensifica nas crises do centro, quando é necessário repassar custos à periferia, como em 2008.
Como sabemos, sempre houve no seio da esquerda brasileira muitos debates sobre a natureza do sistema econômico vigente no país e sobre a estratégia a ser adotada na luta pela independência nacional, pela justiça social e pelo socialismo. Teoricamente, empresários e trabalhadores poderiam ter um destino comum no ambiente democrático, mesmo num hipotético socialismo “de mercado” que nunca se aventou (ver artigo 1 do estatuto do PT). É claro que havia e segue havendo uma verdade nesta supostamente possível aliança: o país deveria ter empresas nacionais estáveis e dar certo espaço à iniciativa privada, de preferência em pequena e média escala, ao lado de um estado forte e soberano e serviços públicos decentes. Mas, tal como no passado, diante de um novo aguçamento do conflito distributivo, a assim chamada “burguesia nacional” novamente aliou-se em bloco ao golpismo e tolerou decisões que, em parte, prejudicaram alguns de seus próprios grupos (Odebrecht etc.).
No calor de uma crise, seus vínculos de classe internos e mesmo externos são mais fortes do que eventuais alianças circunstanciais com a massa trabalhadora. Vimos novamente então como esses vínculos entre os grupos dominantes, e destes com o capital internacional, impediram a continuação de um projeto desenvolvimentista sob o governo de Dilma. Isso ocorreu porque não há uma “fração industrial” isolada da burguesia; na verdade, a indústria -mais prejudicada pela crise- é apenas um segmento da ampla carteira de investimentos do capital oligopolista e conglomerado, local e estrangeiro, que compensa suas eventuais perdas em bens tangíveis com ganhos financeiros, imobiliários etc.. Essa crença num apoio de uma suposta “fração de classe” da burguesia foi destruída na aceitação em bloco que o golpe recebeu, devendo ser descartada.
Como vimos, quando o país sofreu um novo abalo no bojo de mais uma crise externa e da semi-estagnação global subsequente (2008-2018), o conflito distributivo instalado foi resolvido numa reedição do autoritarismo e num ataque aberto à classe trabalhadora (volta do desemprego estrutural, precarização das leis de trabalho e queda do salário real). Este autoritarismo desta vez não tem qualquer projeto que não o da espoliação curto-prazista da massa pobre em favor do grande capital local e externo, numa verdadeira “acumulação por despossessão” num ambiente sem perspectivas de expansão das forças produtivas locais -a traduzir uma condição neocolonial. A forte divisão política do país e os laços de dependência da burguesia permitiram sucessivas vitórias fáceis para as potências globais, que viam num eventual fortalecimento regional brasileiro um perigo geopolítico: daí a quebra da construção civil e naval nacional; a perda de proeminência da Petrobras; o ataque ao submarino nuclear; a desmoralização do Mercosul etc..
Aparentemente, é absurdo pensar que haja um interesse em colapsar o estado brasileiro em função do consórcio multinacional oligopolístico que controla efetivamente a economia do país. Mas a essência do neocolonialismo ontem e hoje é que há setores do próprio estado e das classes sociais locais que lucram com a condição de intermediários de interesses estrangeiros. Neste sentido, o conflito perene que se instalou desde 2013 tem atuado como enorme fator de enfraquecimento do país, para deleite das potências globais e do grande capital (“dividir e reinar”), com amplos prejuízos ao povo pobre e mesmo à chamada “classe média”. À luz disto, o campo progressista deveria evitar enfrentamentos desnecessários com a pequena-burguesia e eventuais setores igualmente descontentes com o desmonte do país (inclusive nas Forças Armadas, na Igreja Católica etc.). Mas deve ao mesmo tempo basear sua eventual estratégia de hegemonia política futura num renovado esforço de politização em massa do povo pobre, enfatizando a consciência de classe e a luta anti-imperialista. Isto implica descartar ilusões ideológicas e alianças débeis, destacando a classe trabalhadora como o principal ator capaz de liderar uma luta contra o neoliberalismo, o fascismo e o imperialismo.
(*) Vítor Schincariol é professor da UFABC