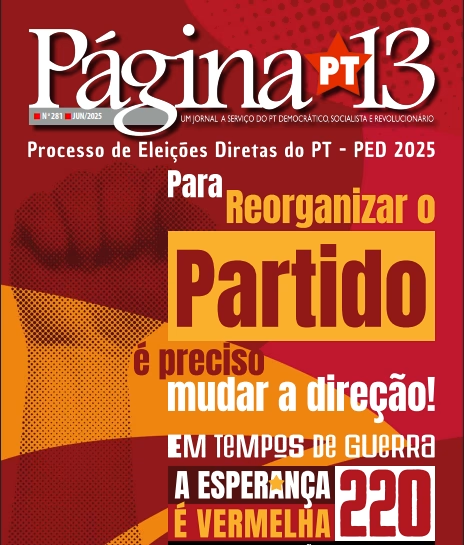Por Sônia Fardin*

(não leia se não gosta de spoiler)
Laicidade é um traço político da vila Bacurau. Na ficção de um Brasil recolonizado, é a escolhida para ser varrida do mapa, assassinada pelo desejo necrófilo do capital.
Na comunidade fictícia, criada por Kleber Mendonça e Juliano Dornelles, tem professor, médica, enfermeira, comerciante, agricultor, artista, radialista, profissional do sexo, museóloga, cozinheira, motorista, pistoleiro e político, mas não tem nem padre, nem pastor ou nenhuma outra figura de autoridade religiosa.
É na escola, no posto de saúde, na praça e no museu que a vida comunitária de Bacurau é gestada. Em torno desses espaços públicos e laicos que as estratégicas de solidariedade e referenciais de atuação política são coletivamente pactuadas. Diferente dos demais edifícios públicos, a única igreja inserida no cenário não tem a mesma potência na trama.
Sem omitir o sagrado, fincado no universo nordestino, o roteiro de Bacurau dá a ver distintas práticas espirituais, coloniais e nativas, porém sem dar lugar de autoridade a nenhuma pessoa ou instituição normatizadora e/ou mediadora de tais crenças. Nessa geografia urbana fictícia, sob a forma de uma micro urbe sertaneja, sublinhar essa ausência é de grande intencionalidade na construção da potência política da comunidade local.
Cidade laica e altiva, despida de falsos pudores, Bacurau busca o conhecimento em escolas que não se confinam em paredes e a dignidade dos corpos em sexualidades não aprisionadas em denominações; onde poetas cantam emoções sem preço e varais expõem marcas de sangue que nunca secam, na espera de quem as faça justiça.
Justiça em Bacurau veio com a reação de sua gente à barbárie do capital; reação apoiada em dois lugares que carregam memórias de lutas: o museu e a trincheira. O museu expõe a história no centro da vila; a trincheira, ocultada, luta para mudar a história.
O Museu e a trincheira são mais que espaços, são personagens centrais, que ganham protagonismo no momento de reação popular contra a barbárie imperialista. O museu e a trincheira não são metáforas, são duas formas históricas de resistir a morte.
Me detenho aqui no museu; como os demais espaços vivos da comunidade, o Museu Histórico de Bacurau é apresentado logo no início do filme, com tomadas que o situam no centro da vila; mas na primeira parte do filme apenas é mostrada a fachada da casa modesta e bem cuidada, coberta com pedras e letreiros grandes, cuja porta é aberta todas as manhãs por uma moradora. Mas a câmera não adentra ao acervo até que o fluxo dos acontecimentos exija acessar sua força. Porém, o afeto e referenciação da comunidade na casa da memória local são explicitados por dois moradores, que em momentos distintos fazem a mesma pergunta aos forasteiros: “Vocês vieram ver o Museu? É muito bom!”
Forasteiros incultos, que nunca vão a museus, em especial os museus trincheiras, pequenos em sua aparência mas profundos na capacidade de armar o mundo de perguntas sobre sangue derramado. Como diz Mário Chagas “Há uma gota de sangue em cada museu” (http://recil.grupolusofona.pt/handle/10437/4476).
Em Bacurau, foi essa consciência do sangue em sua Historia que fez dos pacatos moradores sujeitos insurgentes contra as formas capitalistas de produção da morte e os interesses que querem impor aos povos latinos o destino de reserva de caça das empresas transnacionais.
Na luta de libertação de Bacurau, do museu foram retiradas armas de antigos combates, das trincheiras a munição, e de ambos as experiências e o conhecimento para definir a estratégia do confronto.
Uma grande lição veio depois do combate. Após derrotar os invasores, na retomada da saga museal, a curadora orienta que limpem o chão, mas “Deixem as marcas das paredes, infelizmente”.
A decisão de manter na parede as marcas de mãos feitas com sangue é uma das lições da sabedoria de Bacurau: não esqueçamos o sangue dos nossos, derramado pelas mãos dos inimigos do povo, mas também não esqueçamos de nossa capacidade de reagir a altura e vencer!
*Sônia Fardin é militante petista, historiadora e doutora em artes visuais.