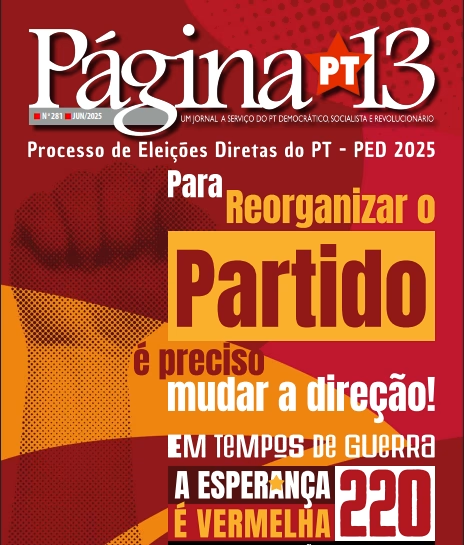Página 13 publica, reunidos, os cinco primeiros artigos de uma sequência de Wladimir Pomar sobre capitalismo e socialismo.

Por Wladimir Pomar*
I
A atual crise econômica, social e política que o Brasil atravessa, em grande parte como produto da crise capitalista global, tende a trazer à tona, cada vez com mais força, a possibilidade e a necessidade do país e de seu povo evoluírem para o socialismo como condição para sair da crise e evoluir por um caminho mais seguro. É verdade, por outro lado, que as visões das diversas forças nacionais de esquerda a respeito da formação econômico-social socialista são extremamente díspares, em grande parte porque também são díspares suas interpretações sobre o capitalismo, assim como sobre o processo histórico de evolução da sociedade brasileira.
Começando por essa evolução é comum, por exemplo, a suposição de que a principal característica ou a principal peculiaridade do Brasil seria a desigualdade social extrema. No entanto, tal desigualdade tem sido peculiar a todos os países capitalistas e também aos países que não ingressaram nessa formação econômica e social. Tal desigualdade (uma universalidade) está se tornando extremada inclusive nos países capitalistas avançados, o que permitiu a Thomas Piketty assegurar e demonstrar que a tendência de aumento dela se aproxima dos níveis existentes durante os anos 1910.
Talvez o mais apropriado seja supor que a principal peculiaridade do Brasil é o modelo específico de sociedade capitalista que resultou de sua evolução histórica. Caio Prado Jr, por exemplo, assegurava que “na base e origem da nossa estrutura e organização agrária, não encontramos, tal como na Europa, uma economia camponesa, e sim a mesma grande exploração rural que se perpetuou desde o início da colonização brasileira até nossos dias”. Tal “exploração rural” teria se adaptado “ao sistema capitalista de produção”, embora de forma não inteiramente completa, sobretudo na “substituição do trabalho escravo pelo trabalho juridicamente livre”.
Assim, os fazendeiros ou latifundiários brasileiros teriam constituído, desde o início, uma burguesia. Tal burguesia brasileira não teria se formado com a industrialização, no século 20, nem com a cafeicultura fluminense e paulista do século 19, ou com a pecuária, do século 17, mas com as plantations de cana e com os engenhos de açúcar do século 16. A colonização portuguesa do Brasil teria sido motivada por interesses capitalistas, conformando uma classe dominante luso-brasileira com características burguesas, fazendo com que a acumulação capitalista tenha precedido a abolição da escravidão.
Ou seja, embora Caio Prado Jr. tenha reconhecido que as relações de trabalho assalariado tenham sido marginais, frente às relações sociais pré-capitalistas prevalecentes, isso não modificou em nada sua suposição de que o Brasil jamais conheceu uma classe dominante que não fosse burguesa, porque o país teria nascido de uma exploração com objetivos capitalistas comerciais. Dizendo de outro modo, para ele o comércio seria a característica principal do capitalismo, independentemente de outras considerações.
Confundiu, portanto, o processo mercantil que levou à acumulação de capital, realizado principalmente pela Espanha, Portugal, Holanda, Inglaterra e França, entre os séculos 15 e 17, com o processo capitalista de desenvolvimento manufatureiro e industrial, com base no capital acumulado e no trabalho assalariado, realizado pela Inglaterra, França, Estados Unidos, Alemanha e Japão, do século 18 em diante. Este processo capitalista caracterizou-se não só pela acumulação de capital, na forma de propriedade privada dos meios de produção, incluindo dinheiro (o que também foi comum nas formações sociais escravistas e feudais), mas principalmente pelas relações sociais de produção entre os proprietários dos meios de produção (capitalistas ou burguesia) e os trabalhadores livres (operariado, proletariado), radicalmente diferentes das relações sociais escravistas e feudais.
Nas formações históricas escravistas e feudais, a renda dos escravocratas e dos senhores feudais provinha da renda fundiária gerada pelo trabalho dos escravos (descontado seu custo de captura e de sustento e o custo das ferramentas) e do trabalho dos servos (que eram proprietários de seus meios de produção e pagavam a renda aos feudais na forma de corveia e de parte da produção).
Nessas formações históricas, os trabalhadores não eram livres. Os escravos eram considerados animais falantes, de propriedade dos escravistas, destinados a trabalhos físicos, cuja vida e/ou morte também dependiam do senhor. Os servos pertenciam à gleba, de onde não podiam ser expulsos, mas também de onde não podiam sair. O mercado existente no escravismo incluía tanto a compra e a venda de escravos (em geral capturados à força), quanto a venda daquilo que os escravos produziam (principalmente minerais e produtos agrícolas). Já no feudalismo, o mercado não incluía a venda de seres humanos.
No capitalismo, os trabalhadores são formalmente livres para vender no mercado não a si, mas a sua força de trabalho, por um tempo determinado. A renda capitalista, conceituada como valor, é oriunda da apropriação, pelo capitalista, da parcela do valor gerado pelo trabalhador assalariado durante seu tempo de trabalho no processo produtivo, mas não paga pelo capitalista. Ou seja, o operário recebe um salário para trabalhar um número determinado de horas, mas o salário corresponde apenas a uma parcela do tempo contratado, enquanto o capitalista se apropria da parte não paga, um mais-valor denominado por Marx de mais-valia.
As relações de produção são, pois, a base para a conceituação do tipo de sociedade imperante. É interessante que a maior parte dos pensadores (historiadores, economistas etc) aceita e reproduz tranquilamente que o Império Romano foi escravista e que as sociedades que resultaram da desagregação desse império na Europa foram feudais. No entanto, quando examinam as sociedades americanas resultantes do processo mercantil de acumulação do capital durante a transição do feudalismo para o capitalismo europeu, alguns se embaralham porque enxergam no comércio com as metrópoles sua aparente característica principal, deixando de lado o exame das relações de produção realmente existentes.
No Brasil do século 16, como admite o próprio Caio Prado Jr., a relação de produção assalariada era extremamente minoritária. O jesuíta Antonil, em seu Cultura e Opulência do Brasil, constatou que tal relação era privilégio de um ou dois mestres de ofício dos engenhos em meio a uma massa enorme de trabalhadores escravos. Valério Arcary admite que o “Brasil agrário, até meados do século XX, era uma sociedade muito desigual e rígida”. Em tal sociedade teria prevalecido “uma inserção social quase hereditária: os filhos dos sapateiros, ou dos alfaiates, ou dos comerciantes, ou dos médicos, engenheiros, advogados herdavam o negócio dos pais. A grande maioria do povo não herdava nada, porque eram os afrodescendentes do trabalho escravo, predominantemente, agrário”.
Portanto, “era estamental porque os critérios de classe e raça se cruzavam, forjando um sistema híbrido de classe e castas que congelava a mobilidade. A ascensão social era somente individual e estreita. Dependia, essencialmente, de relações de influência, portanto, de clientela e dependência através de vínculos pessoais: o pistolão. O critério de seleção era de tipo pré-capitalista: o parentesco e a confiança pessoal”. Infelizmente, Arcary não esclarece as relações que subordinavam o povo afrodescendente “predominantemente agrário”, que constituiu a maioria da população brasileira após o fim do escravismo, em 1888.
Dizendo de outro modo, se muitos acham que a chave de interpretação do Brasil deve ser a desigualdade social, e que a chave dessa desigualdade seria a escravidão, talvez também seja conveniente examinar a situação do povo afrodescendente após o final da escravidão, “predominantemente agrário”, e dos descendentes afros e não afros que, da segunda metade do século 20 em diante, se viram às voltas com um desenvolvimento industrial e com uma modernização agrícola totalmente diferentes dos períodos anteriores.
Nesse sentido, vale a pena examinar os processos históricos de evolução e de revolução do Brasil e dos Estados Unidos que começaram sua história moderna de forma similar, um como colônia de Portugal, na América do Sul e o outro como 13 colônias diversas da Inglaterra, na América do Norte.
II
O Brasil e o que hoje são os Estados Unidos da América do Norte entraram na história como colônias. De imediato tiveram similaridade nas matérias primas produzidas para cada metrópole, mas diferenças significativas quanto à forma de ocupação populacional.
Para a Inglaterra algumas das colônias americanas deveriam ser supridoras de algodão para suas manufaturas de tecidos, enquanto outras deveriam absorver os excedentes populacionais que infestavam as cidades inglesas. Para Portugal interessava unicamente que o Brasil lhe fornecesse açúcar, ouro, e as drogas do sertão nortista, e que não despovoasse a metrópole.
Assim, enquanto as colônias inglesas do sul da América do Norte e a maior parte da colônia portuguesa igualavam-se pela adoção dasplantations trabalhadas por escravos, o norte da colônia inglesa diferenciava-se pela ocupação de homens livres. Grande parte desses trabalhadores livres ocupou as terras como farmers (lavradores independentes), capazes de utilizar máquinas idênticas às da metrópole, e/ou como trabalhadores assalariados.
Nas colônias inglesas e na colônia portuguesa o comunismo ou comunitarismo indígena, com sua repulsa ao escravismo e à invasão de seus territórios de caça e coleta, foi considerado uma aberração humana a ser eliminada pelos arcabuzes. Apenas no norte da colônia portuguesa (Província do Grão-Pará) ocorreu uma diferenciação pela coleta de especiarias realizada por indígenas das reduções religiosas.
Assim, com a constante destruição das tribos indígenas, a composição social das colônias inglesas sulistas comportava, além dos funcionários civis e militares da metrópole, uma classe agrária escravista, que morava em casas grandes nas próprias terras, assim como mercadores de diferentes tipos e escravos africanos. Nas colônias inglesas nortistas conformou-se, paralelamente a uma classe camponesa livre e a uma classe de trabalhadores desprovidos de propriedades, uma classe de reparadores e fabricantes de máquinas agrícolas (principalmente para a cultura do trigo), e uma classe comercial diversificada.
Já a composição social brasileira incluiu, na maior parte do território litorâneo, além dos funcionários civis e militares da metrópole, ossesmeiros, ou a classe agrária escravista que recebia da Coroa portuguesa o direito fundiário de plantar cana e tocar engenhos de açúcar, os escravos africanos e, minoritariamente, escravos indígenas, enquanto na Província do Grão-Pará, ao norte, missionários católicos e indígenas mesclavam-se no cooperativismo aparentemente comunista das reduções.
Os sesmeiros proprietários das plantations de cana e dos engenhos do Brasil tinham o dever de exportar a produção de açúcar para Portugal ou para a Holanda, em grande parte por serem financiados por comerciantes desses reinos feudais. Constituíram inicialmente a classe latifundiária, ou o estamento dos homes bons, com direito a participarem das câmaras das vilas. A eles, mais adiante, se juntaram os sesmeiros dos sertões, proprietários das fazendas de gado.
Nas plantations de algodão das colônias inglesas sulistas da América do Norte, assim como nas plantations e engenhos de cana da colônia portuguesa, do Nordeste ao Sudeste do Brasil, as relações de produção eram, pois, escravistas: os escravos eram obrigados ao trabalho nos eitos das plantações e nas fornalhas dos engenhos. Nas fazendas de gado do Brasil, porém, as relações de produção eram aparentadas às relações de produção feudais.
Os vaqueiros e os peões eram semi-livres, agregados aos currais espalhados por diversas pontos das sesmarias, para criar bois de tração para as moendas e produzir couro para o ensacamento do açúcar a ser embarcado para a Europa. Embora não pertencessem à gleba, como no feudalismo, eram obrigados ao cambão (trabalho grátis em serviços do fazendeiro, idêntico à corveia), e tinham direito a parte da produção do rebanho (quarta ou quinta parte das crias).
Os latifundiários brasileiros moravam nas casas grandes das plantations. Somente constituíram outra residência nas vilas e centros urbanos desse período à medida em que estes se desenvolveram. Os escravos moravam nas senzalas, enquanto os vaqueiros e peões moravam em choupanas próximas aos currais espalhados pelas fazendas. Nos centros urbanos maiores, portos para a exportação, habitavam principalmente os funcionários da Coroa portuguesa, o clero, os comerciantes e os escravos domésticos. Trabalhadores assalariados eram minoria insignificante.
As relações de produção escravistas predominantes mantiveram-se relativamente inalteradas no Brasil e nas colônias sulistas da Inglaterra por mais de dois séculos. Na segunda metade do século 18, porém, ocorreram movimentos radicalmente desencontrados nas duas colônias. No Brasil da época ministerial metropolitana de Pombal, as reduções religiosas na Província do Grão-Pará foram extintas e a escravidão foi estendida a essa região. Por outro lado, a exploração mineira das Gerais intensificou tanto a produção e o comércio de gado bovino, equino e muar, quanto a produção de alimentos para as populações livres e escravas da mineração.
Aproveitando-se dessas demandas, a agregação estendeu-se, então, além do vale do São Francisco e dos pampas sulinos, pelo vale do Paraíba e ao longo das estradas reais que ligavam o sul e o nordeste da colônia às minas. Ao mesmo tempo começou a surgir a figura doposseiro, homem livre que se apropriava de terras devolutas para desenvolver atividades agrícolas.
Nas colônias inglesas, por outro lado, os escravistas sulistas e os homens livres nortistas (que também incluíam negros fugidos da escravidão sulista) uniram-se numa das primeiras guerras anticoloniais vitoriosas da história do nascente capitalismo. A Guerra de Independência, ou a Revolução Americana (1775-1783), deu surgimento aos Estados Unidos da América do Norte, com a iniciante indústria nortista desempenhando papel importante. Conformaram-se assim dois grupos de Estados independentes: os sulistas hegemonizados pela classe agrária escravista, e os nortistas hegemonizados por uma burguesia aventureira e rapace.
Na colônia portuguesa do Brasil, porém, a independência só foi obtida na segunda década do século 19 (1822), após sufocar a Revolução Praiera e outros movimentos revolucionários independentistas. A antiga metrópole portuguesa e o novo país independente, este hegemonizado pela classe agrária escravista, passaram a ser dependentes e subordinados à Inglaterra. Esta, a maior potência capitalista e colonialista da época, procurava, contraditoriamente, dar fim ao escravismo para ampliar os mercados para seus produtos industriais.
Em meados do século 19, os latifundiários escravistas brasileiros viram-se confrontados por diversos desafios. Externamente, tiveram que enfrentar o sistema de caça da frota de guerra inglesa às naves que traficavam escravos africanos para as Américas, que repercutia negativamente no preço dos escravos contrabandeados e na oferta de novos cativos. Internamente confrontaram-se com movimentos abolicionistas, com fugas de escravos e criação de quilombos, e com rebeliões democráticas, tanto urbanas quanto rurais, como as dos cabanos e balaios.
Essa situação conflituosa obrigou o sistema imperial a criar uma Guarda Nacional, transformando os latifundiários em seus comandantes, como coronéis, majores e capitães rurais. As medidas repressivas, porém, não eram capazes de resolver o crescente problema de redução da oferta de mão de obra, o que levou os cafeicultores paulistas a introduzir a parceria em suas plantations e, depois, o colonato, com trabalhadores livres importados. Ou seja, introduziram em suas lavouras novas formas da agregação praticada até então na pecuária.
Nos Estados Unidos, os sulistas continuaram mantendo as relações escravistas de produção, ao mesmo tempo em que os estados nortistas promoviam uma rápida expansão populacional, ferroviária e agrícola das farmers para o oeste, desenvolviam suas indústrias com trabalho assalariado e tinham crescente demanda de homens livres vendedores de força de trabalho. Em consequência, as pressões para a extinção da escravatura elevaram as contradições entre os escravocratas sulistas e a burguesia nortista, contradições que desembocaram na Guerra de Secessão (1861-1865), levando à abolição revolucionária do escravismo e à predominância do trabalho assalariado em todo o território estadunidense.
Com a vitória do norte disseminou-se um desenvolvimento econômico e social tipicamente capitalista, apesar da ideologia e da discriminação racista e escravista haverem perdurado fortemente nos estados sulistas e em inúmeras camadas sociais norte-americanas, como é possível comprovar ainda hoje com os choques sangrentos em Charlottesville, na Virgínia, promovidos por supremacistas, racistas, neonazistas e outras tendências idênticas.
No Brasil, o fim do escravismo não revolucionou as relações de produção agrárias nem superou a hegemonia da classe latifundiária. Essa classe substituiu, na agricultura, as relações de produção escravistas pela agregação, que se tornou predominante, e continuou monopolizando a propriedade das terras nacionais e mantendo a hegemonia sobre o poder político. A maior parte dos antigos escravos afrodescendentes permaneceu nos latifúndios como parceiros (meeiros ou terceiros), uma relação social não-capitalista, nem escravista ou plenamente feudal. Os trabalhadores não pertenciam às glebas, como no feudalismo, mas se tornaram prisioneiros do latifúndio ao se endividarem através das ferramentas e dos alimentos que adquiriam na forma de fornecimento a ser pago aos latifundiários.
Assim, as relações de produção escravistas predominaram no campo brasileiro por mais de 350 anos. A agregação não capitalista ou pré-capitalista foi secundária até a abolição, quando se tornou predominante e perdurou até a segunda metade dos anos 1960. Só então passou a ser praticamente eliminada pela modernização capitalista da agricultura, realizada pelo regime militar.
III
Apesar de haver perdurado por um período tão longo quanto o escravismo, a agregação ainda hoje é simplesmente ignorada. Ou, na melhor das hipóteses, torna-se razão para batalhas teóricas sobre sua conceituação como semi-feudal, ou pré-capitalista. Seu papel, como freio ou o que quer que seja no desenvolvimento capitalista brasileiro não é considerado, embora tenha subordinado, por mais de meio século, cerca de 70% da população ativa brasileira.
Em outras palavras, a agregação, uma relação de produção não-capitalista, ou pré-capitalista, se tornou predominante desde o final da escravidão, represando a maior parte da força de trabalho nacional apenas para a produção de renda fundiária. Mesmo assim há quem acredite que seu esvaziamento, nos anos 1960 e 1970, ocorreu porque a burguesia queria criar um mercado de fabricação e importação de máquinas agrícolas para disputar o mercado mundial de commodities agrícolas. Todo o processo político e econômico ditatorial-militar de transformação ou modernização dos latifúndios em agro-indústrias capitalistas teria se resumido a tal objetivo.
Quem pensa assim não entendeu, por um lado, o aprofundamento das mudanças estruturais nos capitalismos avançados estadonidense, europeu e japonês, que os levou a acelerar a exportação de capitais, ou seus investimentos no exterior. Suas empresas multinacionais intensificaram tais investimentos na construção e operação de plantas industriais em paises como o Brasil. Porém, para efetivar tais investimentos era preciso contar com oferta abundante e barata de força de trabalho que, no Brasil, encontrava-se subordinada às relações de produção de agregação na agricultura. Os camponeses, parceiros ou rendeiros, estavam amarrados aos latifúndios, sem liberdade para vender sua força de trabalho no mercado.
Em tais condições, as burguesias estrangeira e nacional-subordinada necessitavam de um Estado forte o suficiente para impor à classe latifundiária uma reforma que liberasse a força de trabalho agregada aos latifúndios, sem liquidar o monopólio da propriedade do solo. O golpe de 1964, que resultou na implantação da ditadura militar, vindo aparentemente para impedir a comunização do Brasil, mostrou imeditamente a que veio. Decretou o Estatudo da Terra e “obrigou” os latifundiários a uma modernização agrícola financiada pelo Estado.
Milhões de agregados rurais foram substituídos por máquinas e outros insumos agrícolas, criando uma das mais intensas migrações populacionais dos campos para as cidades que o Brasil conhece. Uma enorme força de trabalho barata inundou as cidades industriais ou em processo de industrialização. Com isso, inverteu totalmente a proporção entre as populações rural e urbana brasileiras num prazo inferior a 20 anos. E intensificou a urbanização caótica que hoje caracteriza as grandes e medias cidades do país, contendo cerca de 80% da população.
Ou seja, para promover o “milagre econômico” que procurava justificar sua ditadura e consolidar o desenvolvimento do modo capitalista de produção, subordinado, dependente e desnacionalizado, que havia sido intesificado desde os anos 1950, os governos militares “obrigaram” os latifundiários brasileiros a um processo de modernização agrícola diferente tanto do processo sulista estadunidense no século 19, quanto do processo inglês do século 14.
Os feudais ingleses transformaram-se em capitalistas pressionados pelas demandas de lã das manufaturas holandesas. O que os levou a expulsar milhões de camponeses das terras de cultivo feudais e comunais e criar a imensa massa desprovida da propriedade de meios de produção e de subsistência apta a vender sua força de trabalho por salário. Foi isso, aliado à intensificação mercantil global, que forneceu a principal base para a disseminação das relações de produção que caracterizaram o capitalismo em substiuição às relações feudais. Já os estadunidenses escravistas sulistas foram transformados em agricultores capitalistas pela Guerra de Secessão que eliminou revolucionariamente as relações escravistas e impôs as relações assalariadas a todos os Estados da União norte-americana.
Os latifundiários brasileiros, porém, foram “forçados” a obter financiamentos do Banco do Brasil para expulsar os trabalhadores agregados e substituí-los por máquinas, fertilizantes químicos e trabalho asalariado. As áreas rurais foram, em geral, esvaziadas de trabalhadoresagregados, libertados para se tornarem mão-de-obra barata para as indústrias estrangeiras e nacionais em processo de implantação. A maior parte dos latifundiários tornou-se uma fração agrícola da burguesia, embora mantendo, como os sulistas norte-americanos, a ideologia escravocrata e racista que acha a indústria um setor secundário da economia e a democracia, mesmo a liberal, um sistema subversivo.
Nessas condições, o desenvolvimento do capitalismo brasileiro diferencia-se brutalmente do desenvolvimento do capitalismo norte-americano. Primeiro porque este criou uma poderosa indústria nacional de bens de produção e de bens intermediários, construindo uma base segura para o desenvolvimento tecnológico e a produção competitiva dos bens de consumo em termos internacionais. Segundo, porque tal desenvolvimento nacional permitiu, já no final do século 19 e início do século 20, que o capitalism norte-americano, aproveitasse o anacronismo colonial espanhol para iniciar a prolongada disputa que viria a travar contra a hegemonia colonial e semicolonial britânica na América Latina.
Nas três primeiras décadas do século 20, o capitalism norte-americano assistiu à hegemonia de sua fração industrial, com um intenso desenvolvimento de seu departamento de bens de produção (máquinas e tecnologias) e de destruição (armas pesadas), crescente fortalecimento de sua fração financeira e paulatino ingresso em sua fase de expansão imperialista, incluindo sua participação em todos os aspectos da Primeira Guerra Mundial. Não por acaso o capitalismo norte-americano se tornou o epicentro da crise mundial iniciada em 1929, que levou à Segunda Guerra Mundial e se prolongou até 1945, com imensa destruição de forças produtivas, incluindo mais de 50 milhões de vidas humanas.
O capitalismo brasileiro, porém, só conseguiu dar passos industriais concretos nos anos 1910, como decorrência não de forças internas inovadoras, mas dos cortes significativos que a Primeira Guerra Mundial impôs às importações de bens de consumo fabricados na Europa. O primeiro soluço industrializante resultou, assim, não da perspectiva da fabricação de bens de produção industriais como elemento essencial para a soberania nacional. Resultou da simples substituição de importações de bens de consumo. O único fator positivo desse soluço consistiu na emergência de uma pequena classe operária industrial em algumas cidades do país.
A esse ingresso torto na industrialização somou-se um segundo soluço industrializante nos anos 1930, comandado por frações latifundiárias que se opunham à hegemonia da cafeicultura paulista e a seu hábito de “socializar” os prejuizos causados pelas crises no mercado mundial de commodities agrícolas. A crise mundial capitalista, iniciada em 1929, agravou tal contradição ao ponto de levar a choques armados, materializados na vitoriosa “revolução liberal” e na fracassada e opositora “revolução constitucionalista paulista”.
As reformas “liberais” levaram o Estado assumir papel ativo na industrialização, seja criando empresas estatais, seja financiando empreendedores burgueses, e em não mais considerar as demandas econômicas e sociais da limitada força de trabalho assalariada comoassunto policial (o que se materializou na formalização de leis trabalhistas). Mas a demanda de uma reforma agrária que liquidasse ou limitasse o domínio latifundiário e liberasse grandes contingentes da força de trabalho agregada jamais foi considerada.
Apesar dessas limitações, o capitalismo “liberal” brasileiro sofreu constantes ataques do agrarismo latifundiário e dos países capitalistas desenvolvidos. Os primeiros continuavam considerando que o destino do Brasil era se tornar a lavoura do mundo, enquanto os segundos se opunham ao crescimento de concorrentes industriais. O desenvolvimento industrial dos anos 1930 e 1940, só contou com a transferência de tecnologias estrangeiras em virtude das contradições que levaram à Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, os debates entre agraristas e industrialistas retratam melhor do que quaisquer outros as bases das grandes desigualdades de desenvolvimento capitalista nos Estados Unidos e no Brasil.
A Segunda Guerra Mundial e o período posterior a ela permitiu ao capitalism norte-americano dar saltos enormes na incorporação das mulheres à forca de trabalho ativa, na concentração do capital, na revolução tecnológica, na reestruturação de sua política de exportação de capitais, na centralização de capitais em empresas multinacionais, e no aumento da exploração de países atrasados, colônias ou semicolônias.
Essa fase incluiu, ainda, o confronto de guerra fria com a União Soviética e países de democracia popular, assim como com os movimentos de descolonização, permitindo ao capitalismo norte-americano se elevar à condição de força hegemônica mundial capitalista. Nos anos 1970, porém, a centralização do capital em grandes corporações transnacionais e a tendência de queda da taxa médiia de lucro impuseram reformulações estruturais nas políticas de exportações de capital dos Estados Unidos e dos demais países capitalistas centrais, intensificando o processo de globalização do modo de produção capitalista.
Na sociedade brasileira só começaram a ocorrer modificações significativas quando ela se confrontou com os crescentes investimentos promovidos pelas exportações de capitais do capitalismo desenvolvido, a partir dos anos 1950. De lá para cá, todas as reformas de sentido capitalista praticadas no Brasil, incluindo a modernização agrícola e a liberação da força de trabalho agregada dos latifúndios dos anos 1960-70, foram conservadoras. Mantiveram a economia brasileira sobordinada, dependente e desnacionalizada, e totalmente à mercê das corporações transnacionais e de suas crises globais.
Em outras palavras, o capitalismo brasileiro só é nacional no sentido de que está implantado no seu território. No mais, as principais decisões sobre seu desenvolvimento estão localizadas em Washington, Berlim, Tóquio, Paris e Londres. Em tais condições, ao confrontar-se com as tendências reais do capitalismo, a exemplo da tendência de pauperização relativa e absoluta da força de trabalho, o capitalismo no Brasil não só manteve, mas agravou todas as desigualdades econômicas, sociais e políticas que herdou do escravismo e da agregação.
IV
Um capitalismo industrial e comercial subordinado, dependente e desnacionalizado, ao qual foi agregada uma fração agrícola modernizada à custa da maior parte da sociedade, tendia não só a manter mas a agravar aquilo que alguns autores chamam de “desigualdade anacrônica”. Um dos exemplos mais característicos dessa tendência, ou da incapacidade do capitalismo brasileiro em mudar os elevados graus de desigualdade social, pode ser encontrado na crise que se seguiu ao “milagre econômico” da ditadura militar.
Tal milagre chegou a suscitar esperanças em setores da própria classe operária. Esta, renovada e engrossada pelos grandes contigentes de ex-agregados rurais liberados para vender sua força de trabalho nos centros urbanos, nutriu ilusões de que o processo de geração de empregos seria constante. No entanto, sendo subordinado, dependente e desnacionalizado, o milagre capitalista comandado pela ditadura foi incapaz de resistir às crises mundiais do petróleo e da dívida externa dos anos 1970 e 1980. Morreu, forçando uma retirada estratégica dos militares. E deixou como herança um desemprego de grande parte dos que haviam sido deslocados dos campos para as cidades, dando origem a uma imensa massa excluída, na qual sobressaem os sem (escola)-sem (emprego).
É verdade que os intelectuais desse capitalismo descarregam sobre o próprio povo brasileiro a responsabilidade por tais infortúnios. Para alguns deles, um povo mestiço, criado pela colonização lusa atrasada, jamais seria capaz de seguir os passos dos “pioneiros” norte-americanos. Para outros, ao contrário, seria justamente a mestiçagem que nos empurraria para a frente. Dizendo de outro modo, ambos acreditam que a raça é o fator decisivo para explicar os traços característicos de nosso povo e de suas classes sociais. Deixaram de lado a pesquisa histórica sobre o desenvolvimento real das forças produtivas e das relações de produção no Brasil. E chegam a explicitar que a colonização do Brasil teria sido diferente se houvesse sido realizada pelos ingleses ou pelos holandeses, a exemplo da colonização inglesa da América do Norte.
Com isso, por exemplo, esquecem ou encobrem os resultados da colonização inglesa na Índia e na África do Sul e da holandesa na Indonésia, diferentes da que ocorreu na América do Norte. Como já vimos, os Estados Unidos não tiveram a mesma sorte (ou azar) da India e do Brasil porque a Inglaterra precisava reduzir a pressão populacional dos desterrados pela criação de ovelhas e pelo desenvoolvimento ainda incipiente das manufaturas. Grande parte das terras parcamente habitadas da América do Norte de então apresentavam condições para receber tais desterrados, onde podiam estabelecer-se como agricultores independentes e até copiar as novas técnicas e relações de produção que estavam sendo implantadas na metropole. Nas colônias nortistas puderam desenvolver uma indústria local e, para completar, realizaram duas guerras revolucionárias, a de independência e a de liquidação do escravismo e implantação do trabalho assalariado em todos os Estados Unidos.
Assim, enquanto a burguesia norte-americana, na segunda metade do século 19, legitimava sua hegemonia econômica e social, seja em confronto aberto com a Espanha, seja disfarçadamente com a Inglaterra, a insignificante burguesia brasileira somente deu seus primeiros passos no final do daquele século, com as experiências fracassadas e/ou esmagadas do Barão de Mauá e de Delmiro Gouveia. Sob influência do tratamento dado pelos latifundiários a seus agregados, nas três primeiras décadas do século 20 tal burguesia ainda se esforçava para demonstrar que reivindicações operárias não passavam de arruaças e assuntos políciais. Segundo ela, greves não deveriam fazer parte das características do povo dócil e cordial que teria, pacificamente, “conquistado” sua independência, “libertado” os escravos e “proclamado” a república.
É lógico que essa burguesia, subordinada aos latifundiários, não conseguia esconder totalmente a ocorrência da Confederação do Equador, dos Alfaiates, da Balaida, das Cabanadas, de Canudos e de outras revoltas populares da história brasileira. Mas esses acontecimentos foram sempre considerados pontos fora da curva e, como tais, teriam merecido um esmagamento exemplar. Talvez por isso vários autores não se acanhem em afirmar que, no Brasil, a burguesia surgiu no século 16, e o proletariado no final do século 20.
Contra todas as evidências históricas, tentam justificar tal disparate citando a burguesia europeia, que teria sido forjada como classe muitos séculos antes da existência do proletariado. A verdade é que tal burguesia, embora surgindo primeiro como classe média proprietária subalterna, não dominante, só acumulou força econômica, social e política à medida que subordinou sua circulação de mercadorias ao desenvolvimento de suas manufaturas acionadas pelo trabalho assalariado. E só realizou a revolução burguesa para conquistar o poder politico e exercer sua hegemonia quando seu poder econômico alcançou dimensão igual ou superior ao dos feudais.
Em outras palavras, os autores que eliminam as relações de produção assalariadas como base para a geração da mais-valia e a acumulação de força econômica desconhecem que, embora os habitantes dos burgos da Idade Média fossem chamados de burgueses, a burguesiasomente se conformou como classe social quando o sistema de uso da força de trabalho livre pelo assalariamento se tornou predominante. Sem tal relação de produção haveria burgueses habitantes de burgos, mas não burguesia como classe social.
A burguesia “brasileira”, constituída em grande parte por parcelas ou frações estrangeiras e por latifundiários que aproveitaram a necessária substituição das importações para se tornarem industriais, só começou a ganhar corpo nas primeiras decadas do século 20. Nos anos 1930 e 1940, época de crise e guerra mundial, a fração nacional dessa burguesia cresceu bafejada por investimentos e financiamentos estatais, mas não chegou a ter um poder econômico e uma hegemonia que lhe permitisse substituir a classe latifundiária e as frações estrangeiras no poder politico.
Essa fração nacional manteve-se sempre subordinada à classe latifundiária e às frações capitalistas estrangeiras, em especial à norte-americana. Viveu sempre do acordo ou da conciliação com esses setores dominantes, tornando-se incapaz de dirigir qualquer processo real de desenvolvimento capitalista soberano. Mesmo durante a ditadura militar, que modernizou os latifúndios e transformou seus proprietários em fração agrária da burguesia, completando o processo de implantação do sistema capitalista no Brasil, a fração burguesa nacional foi incapaz de se impor. A hegemonia continuou em poder dos setores industriais e financeiros estrangeiros, enquanto os latifundiários se reorganizavam como fração agrária da burguesia.
Essas características próprias da evolução da formação econômica e social brasileira causaram inúmeros embaraços aos seus estudiosos. Algumas correntes autodenominadas marxistas chegaram a admitir a existência de uma formação social feudal, tendo por base as relações de agregação aparentadas ao feudalismo. O que levou alguns a considerarem que a burguesia nacional deveria ter um papel revolucionário. Supuseram que ela poderia transformar as relações de produção (universalização do trabalho assalariado), desenvolver o capitalismo e até mesmo criar as condições para a revolução socialista depois que a revolução democrático-burguesa houvesse cumprido seu papel histórico. As diferentes alianças e a subordinação dessas correntes a setores da burguesia tinham por base esse pressuposto teórico.
Outras correntes marxistas tentaram escapar desse embaraço analítico defendendo que o modo de produção dominante no Brasil teria sido escravista colonial. O que pode explicar a maior parte da sociedade brasileira até 1888, mas não o meio século seguinte em que predominou a agregação e em que, nas cidades, se disseminaram as relações monetárias para a compra e venda da força de trabalho. Para complicar, ainda houve correntes que resolveram virar Marx de cabeça para baixo e afirmar que a colonização no Brasil e nos demais países da América Latina teria sido capitalista, ou que consideravam a economia mundial uma estrutura centro-periferia que se perpetuaria, mesmo em ritmos diferentes.
Um estudo mais apropriado do desenvolvimento capitalista nos Estados Unidos e no Brasil durante as décadas de 1970-1990 podem demonstrar com mais crueza como as tendências do capitalismo avançado, previstas por Marx, foram intensificadas, e como as caracterísitcas desiguais de subordinação, dependência e desnacionalização do capitalismo brasileiro se acentuaram.
Nos Estados Unidos surgiram corporações ainda maiores do que as multinacionais, as transnacionais. Elas utilizaram cada vez mais seu poder de monopólio e de oligopólio para eliminar a concorrência (ou competição), driblar as leis antitruste, concentrar e centralizar cada vez mais a riqueza (1% da população norte-americana detém mais riqueza do que os demais 99%), não dar qualquer atenção aos problemas ecológicos e, cada vez mais, substituir o trabalho vivo (realizado diretamente pelos homens) pelo trabalho morto (realizado por máquinas programadas), intensificando o desemprego estrutural e as pauperizações absoluta e relativa.
Além disso, na busca pela centralização dos capitais e pela elevação do lucro, o capitalism norte-americano intensificou as exportações de capital, seja na forma financeira, seja na forma de transferência de plantas industriais segmentades e/ou completas. Assim, por um lado saqueouu e desindustrializou economias nacionais subordinadas aos capitais especulativos (caso do Brasil) e desindustrializou a si próprio (vide Trump). Por outro, intensificou a industrialização de países atrasados do ponto de vista capitalista, mas politicamente soberanos, criando novos concorrentes, (casos da China, Índia etc).
A burguesia brasileira, hegemonizada por suas frações financeira, industrial estrangeira e, crescentemente, também por sua fração agrária, em obediência às políticas neoliberais do Consenso de Washington, operou nessas mesmas décadas para fazer com que o país retornasse à posição de exportador de commodities minerais e agrícolas e de centro de transferência da riqueza nacional (expressa no produto nacional bruto) para os países capitalistas centrais.
O resultado, evidenciado na crise do final dos anos 1990, foi a privatização e a transferência, para outros países, de grande parte do parque industrial implantado nos anos anteriores (na prática, uma quebra ou desindustrialização industrial), a intensificação do desemprego e das desigualdades sociais, e a crescente ascensão do agronegócio, ou da fração agrária da burguesia, a uma posição hegemônica em parceria com as frações financeira e estrangeira.
V
Voltando ao período que tem início nos anos 1970, os Estados Unidos encontram-se envolvidos em crises financeiras e em problemas estruturais. Há uma brutal concentração e centralização de capitais, formação de grandes corporações transnacionais, crescente monopolização e oligopolização da economia, rápido desenvolvimento científico e tecnológico, e o desemprego estrututal já mostra a sua cara. A elevação da produtividade do trabalho reduz a necessidade de utilização de mão-de-obra humana, e ocorre queda acentuada da taxa media de lucro.
Para complicar ainda mais, os Estados Unidos encontram-se afundados na Guerra do Vietnã e num crescente deficit orçamentário, ao mesmo tempo em que pretendem derrotar a União Soviética na disputa social e política mundial. Foi nesse contexto conturbado que o capitalismo norte-americano decidiu empreender uma série de reajustes econômicos e politicos de caráter estrutural.
No terreno econômico impôs o fim do Acordo de Bretton Woods, tornando o dólar uma moeda universal de troca; intensificou a exportação de capitais na forma financeira especulativa e na forma de transferência segmentada ou completa de plantas industriais para países ou regiões agrárias ou agrário-industriais de baixos salários; impôs o neoliberalismo do Consenso de Washington para agilizar esse conjunto de medidas em países predispostos a abrir suas economias a capitais especulativos. E, no campo politico, negociou o final da guerra do Vietnã para ficar em condições de se concentrar na disputa econômica, política e militar com a União Soviética.
Esse conjunto de medidas e ajustes estratégicos norte-americanos intensificou a globalizaçãoo do modo capitalista de produção no período que se estendeu até a crise do final dos anos 1990. Os capitais especulativos ficaram livres de qualquer regulação, criando capitais fictícios, ou bolhas especulativas de diferentes tipos, como no setor imobiliário e nos chamados derivativos, tanto no terrtório norte-americano quanto em países cujos classes dominantes capitularam ideológica e praticamente ao neoliberalismo.
Os capitais produtivos, por sua vez, deslocaram-se para inúmeros países de mão de obra mais barata, capazes de gerar uma mais-valia compensadora e permitir a tranferência de parte substancial do seu produto interno bruto para os países de origem daqueles capitais. O problema, principalmente para os Estados Unidos, consistiu na velocidade com que o desemprego, derivado da elevação interna da produtividade e da transferência de plantas industriais para outros países, atingiu as diferentes camadas de trabalhadores, técnicos e especialistas, ao mesmo tempo em que centralizou os capitais no 1% mais rico da população.
O decantado American Way of Life se esgarçou rapidamente, fazendo com que cerca de 50 milhões de norte-americanos fossem colocados abaixo da linha da pobreza. Os sinais de que a adoção de políticas neoliberais gerava bolhas explosivas apareceram primeiro em países periféricos, como Brasil e Rússia, em 1998, prenunciando os grandes problemas econômicos e políticos que o neoliberalismo estava produzindo. É verdade que a vitória sobre o socialismo de tipo soviético, com a derrocada da União Soviética no início dos anos 1990. mascarou a situação crítica dos Estados Unidos, assim como o crescimento de seu triplice deficit. Embora tenha se elevado momentaneamente à posição de potência unipolar, era previsível que as reformas estruturais do capitalismo norte-americano não prenunciavam um horizonte tranquilo.
No Brasil, por sua vez, a crise monetária destampou as contradições perversas das políticas neoliberais de juros altos (ficticiamente para conter a inflação), privatização de ativos estatais, investimentos prioritários em bolsas de valores e outras áreas especulativas, e câmbio valorizado. O desmonte industrial, a jogatina rentista, a inflação baixa via compressão do consumo, e o esforço para o pagamento dos juros aos credores internacionais só não se transformou num desastre nacional evidente porque o FMI interviu para sustentar as finanças brasileiras por mais algum tempo e evitar a derrota de FHC nas eleições de 1998.
Mas o desastre neoliberal se tornou uma realidade intransponível. Transformou o segundo mandado de FHC num marasmo sem perspectiva de mudanças, o que levou parte da burguesia nativa a concordar com uma possível vitória eleitoral de Lula e do PT. Concordância que se firmou após a publicação da Carta aos Brasileiros que, sob o argumento de uma correlação de forças desfavorável, comprometeu Lula e o PT a não revogarem o núcleo duro da política neoliberal. Na prática, a burguesia passou a Lula, ao PT e aos trabalhadores a tarefa de sair da crise em mexer nos fundamentos da própria crise.
Mas essa burguesia não levou em conta a possível reativação do mercado mundial de commodities agrícolas e minerais, efetivada principalmente pelo crescimento econômico chinês. Também não levou em conta os efeitos positivos que tais condições externas favoráveis poderiam exercer sobre uma política de elevação do poder de compra das camadas populares, através da elevação do salário mínimo e de programas estatais de transferência de renda para os setores miseráveis e pobres. A burguesia apostava que a esquerda, hegemonizada pelo PT, afundaria rapidamente, justificando a retomada das políticas neoliberais.
No entanto, os governos de coalizão dirigidos pelo PT conseguiram ampliar sua influência política através da intensificação dos programas sociais que desbordavam as políticas neoliberais. Isso colocou a burguesia dominante diante da necessidade de encontrar novos meios pseudo-democráticos para retomar as rédeas do governo como condição para a continuidade plena das políticas neoliberais. A crise política de 2005, que trouxe à tona o envolvimento de dirigentes petistas na utilização de caixa 2 de empresários para campanhas eleitorais e para movimentações financeiras pouco claras, foi a primeira tentativa séria da burguesia para apear a esquerda do governo.
No entanto, o governo dirigido pelo PT não só conseguiu enfrentar a crise com certo sucesso, como Lula foi reeleito em 2006 e elegeu Dilma Russef em 2010 e 2014. A primeira eleição de Dilma, no entanto, ocorreu no quadro de uma mudança radical da situação internacional e nacional produzida pela crise global de 2008. Com origem nos Estados Unidos, essa crise teve efeitos deletérios sobre o comércio internacional, incluindo o mercado de commodities minerais e agrícolas, e sobre as taxas de crescimento de todas as economias nacionais.
Em tais condições tornou-se inevitável um crescente confronto da burguesia dominante contra as políticas sociais e contra a intervenção do Estado na economia (a não ser nos casos em que a beneficiavam diretamente). Apesar disso, a maior parte do PT continuou acreditando que, mesmo sem romper radicalmente com as políticas neoliberais e sem retomar com firmeza as necessárias políticas de reindustrialização, seria possível promover o crescimento economico através da elevação do poder de consumo. Em outras palavras, acreditou que a elevação da demanda de bens de consumo funcionaria como indutor da industrialização e do crescimento.
A crença dominante era a de que o empresariado, atraido pela elevação da demanda, investiria na produção, e de que o mercado orientaria a economia no bom sentido. Não levava em conta que o empresariado lucrava mais com os altos juros reais e que o mercado era orientado por esse rentismo das grandes corporações internacionais hegemonizadas pelo capital financeiro e também pela fração agrária da burguesia.
Em tais condições, as tímidas tentativas de reorientação estratégica através dos PACs, das parcerias público-prvadas para a construção infraestrutural, e das desonerações fiscais a determinados ramos industriais, não conseguiram superar a subordinação da economia nacional aos cartéis internacionais. E a ausência de regulação dos investimentos externos não só deixava de direcioná-los para programas efetivos de reindustrialização (base segura para um crescimento econômico firme) como mantinha a economia nacional aberta à ação dos capitais especulativos.
A essas fraquezas na estratégia de enfrentamento dos problemas estruturais da sociedade brasileira acrescentou-se a tática de minimizar o poder destruidor da crise global e de considerer que a melhor forma de enfrentar o crescente descontentamento da burguesia com as políticas sociais consistia em intensificar a conciliação e adotar as medidas reclamadas por ela, a exemplo das continuas desonerações e, depois, do ajuste fiscal.
Ou seja, ao invés de construir um programa econômico que combinasse os instrumentos estatais e privados nacionais com forte atração de investimentos externos direcionados para implantar indústrias de base e internalizar novas tecnologias, a exemplo do que começara a ser feito para a exploração do pré-sal, criando fissuras na burguesia nativa e estrangeira, foi escolhida uma rota contrária a tudo que era defendido nos embates eleitorais. A economia afundou em recessão e no desemprego, abrindo brechas para a ofensiva estratégica contra a continuidade tanto de governos dirigidos pelo PT quanto das políticas sociais e democráticas em curso.
A burguesia voltou a mostrar sua caratonha de desnacionalizada, subordinada e dependente dos capitais estrangeiros, além de antidemocratica e racista. As eleições de 2014 ocorreram num clima ainda mais radicalizado do que as de 2010, obrigando o PT a sustentar bandeiras que pareciam indicar uma inflexão popular e democrática mais nítida no caso de vitória eleitoral. No entanto, ao contrário, para espanto geral, o governo radicalizou sua conciliação com a burguesia, adotando o ajuste fiscal reclamado por ela como estratégia para enfrentar as consequências da crise econômica.
Com isso, o novo governo Dilma contribuiu para desorganizar as forças populares e abrir os flancos para uma ofensiva geral das classes dominantes, não só contra o governo e suas pollíticas sociais, mas também contra os partidos de esquerda e os movimentos populares. A operação Lava-Jato, o processo de impeachment por supostas pedaladas ficais, a crescente judicialização da política, as campanhas pela intervenção militar, e uma série considerável de ações reacionárias não só colocaram em risco os pequenos avanços sociais e democráticos conquistados durante os governos comandados pelo PT, como iniciaram o desmonte de tais avanços.
* Wladimir Pomar é escritor e analista político